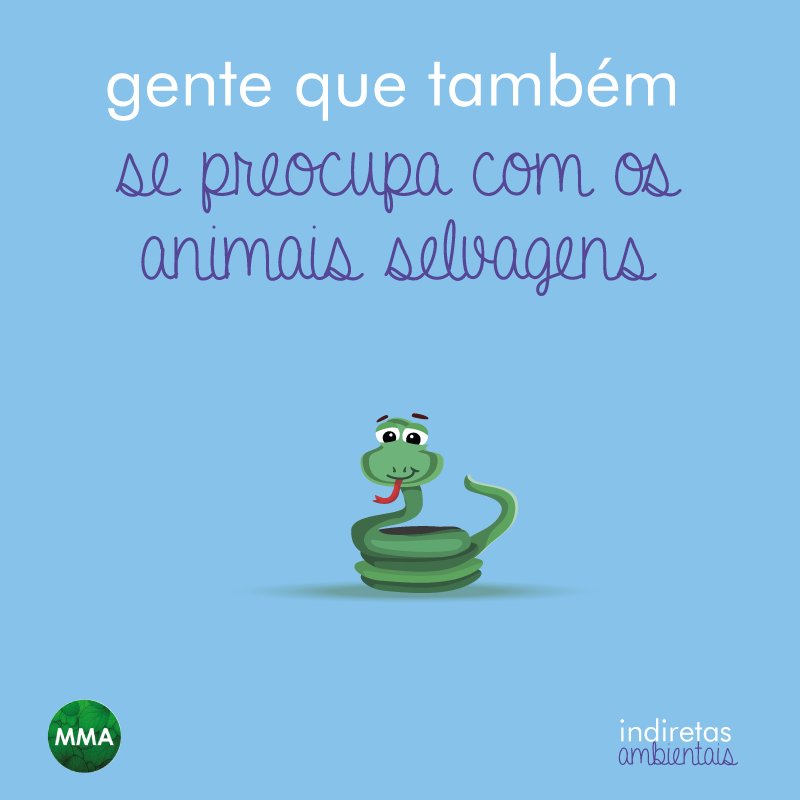É ótima a sensação de não estar exatamente perdido – mas sem poder ser achado. Abro caminho pelo mato, acompanhando um riacho sem nome no nordeste de Ohio, e passo por cima de árvores caídas na travessia de uma ravina de rocha argilosa. A água leitosa de tanto lodo escorre em minúsculas cascatas. O sol dança na correnteza e na madeira dos troncos. Tiro as botas, e a lama das poças entra fria nos dedos dos pés. A distância, logo depois do morro, o som da cidade vem e vai. A civilização está tão perto mas parece distante, e é nessa ambivalência que reside o fascínio de um parque urbano.
O lugar é uma filial do Parque Nacional Vale Cuyahoga, uma manchinha de tinta espichada no mapa da vasta rede viária de Cleveland e Akron. O astro do parque é o resiliente Rio Cuyahoga, outrora um chavão quando se falava em ruína ambiental, por causa de uma pilha gosmenta de detritos de óleo que se incendiou no meio da água. Cinco anos mais tarde, em 1974, foi inaugurado o parque, formado pouco a pouco das terras do outro lado do vale compacto. A magnificência é sortida e vem em pequenas doses. Penhascos de arenito ficam escondidos na mata. O que já foi um pátio de oficina de carros agora é um pântano forjado por castores que represaram um velho canal. E onde havia um ginásio esportivo, sede do time de basquete Cleveland Cavaliers, agora é uma clareira para observar falcões. O mundo construído e o mundo natural ficam próximos, em camadas, competindo pela atenção dos ciclistas e caminhantes que passam pela velha trilha à beira do canal.
É assim o parque urbano do nosso tempo. Em contraste com os espaços públicos de outrora, minuciosamente projetados, esses parques são criados em porções descartadas das cidades: sobras de bosques sitiados, bases e aeroportos militares abandonados, estações de captação de águas pluviais, linhas férreas e pontes, lugares onde os terrenos são juntados como colchas de retalho ou enfileirados como contas num colar.
O experimento é global. Parques em ferrovias, muitos deles inspirados pelo sucesso da High Line nova-iorquina, agora são atrações em Sydney, Helsinki e outras cidades. Cingapura está criando uma floresta pluvial artificial dentro do aeroporto de Changi. Na periferia da Cidade do México está em planejamento um parque imenso na área que resta do Lago Texcoco.
A abrangência da inovação me encanta, fico eletrizado com a energia que as pessoas trazem a lugares assim. Aos poucos, percebo que os parques urbanos não são substitutos para os parques enormes e às vezes remotos que protegem a majestade de nossas florestas, montanhas e desfiladeiros. Eles servem a um propósito diferente – e a verdade é que precisamos de ambos.
 Banhistas entram no Eisbach (“Córrego de Gelo”, em alemão), um pequeno rio artificial no Jardim Inglês de Munique. O nome do parque vem de um estilo paisagístico informal popular no século 18, quando foi criado - Foto: Simon Roberts
Banhistas entram no Eisbach (“Córrego de Gelo”, em alemão), um pequeno rio artificial no Jardim Inglês de Munique. O nome do parque vem de um estilo paisagístico informal popular no século 18, quando foi criado - Foto: Simon Roberts
Cheonggyecheon
NUMA TARDE QUENTE E NEVOENTA, começo a caminhada de 6 quilômetros pelo Cheonggyecheon, a linda fita de água que se desenrola com serena desenvoltura pelo coração de Seul.
Nos tempos pré-industriais da cidade, esse rio era onde os casais vinham namorar e as mulheres lavavam roupa. Mas o boom de Seul na esteira da Guerra da Coreia trouxe favelas e poluição, e o rio virou uma aberração. Em 1958, uma estrada foi construída por cima dele. Uma via elevada, concluída em 1976, rematou o sepultamento.
Assim poderia ter também permanecido o Rio Cheonggyecheon, não fosse por um feliz acaso e pela política. Nos anos 1990, um grupo que incluía acadêmicos e engenheiros se empenhou para trazer o rio de volta à luz. Calcularam como administrar a hidrologia do curso d’água e mitigar o pandemônio no trânsito que poderia resultar da remoção da via elevada e da estrada abaixo dela, em que trafegavam 170 mil veículos por dia. “Eu achava que o problema não era o dinheiro”, diz Noh Soo-hong, professor de engenharia da Universidade de Yonsei e um dos proponentes do projeto. “Achava que era a vontade.”
O componente que faltava era um líder com influência. Ele se materializou na figura de Lee Myung-bak, ex-executivo da construção civil cuja companhia tivera a principal concessão para construir a estrada. Ele fez da restauração do rio um objetivo fundamental em sua bem-sucedida campanha para prefeito de Seul em 2002. (Cinco anos depois, foi eleito presidente da Coreia do Sul.) “Era uma ideia muito perigosa”, explica Hwang Kee-yeon, engenheiro de transportes que ajudou a projetar o plano mestre. “Lee Myung-bak decidiu: ‘Eu construí, certo? Então, chegou a hora de demolir’.”
A obra de 372 milhões de dólares, um trabalho de recuperação de proporções gigantescas, começou em 2003. Primeiro veio a demolição da via elevada e a retirada do entulho. Depois a superfície da estrada foi arrancada, deixando o rio exposto. Como muitas restaurações, essa não foi inteiramente fiel ao passado. O curso d’água era intermitente, um fiapo nos meses secos que virava uma torrente durante a monção de verão. Graças a estações de bombeamento que trazem 120 mil toneladas por dia do Rio Han, agora o curso d’água rumoreja constantemente.
 O Cheonggyecheon serpenteia por Seul, capital da Coreia do Sul. Este rio, que já foi uma artéria vital da cidade, esteve coberto por anos. Hoje é um lugar de acolhida aos moradores, de tranquilidade pelo convívio com a água - Foto: Simon Roberts
O Cheonggyecheon serpenteia por Seul, capital da Coreia do Sul. Este rio, que já foi uma artéria vital da cidade, esteve coberto por anos. Hoje é um lugar de acolhida aos moradores, de tranquilidade pelo convívio com a água - Foto: Simon Roberts
“Críticos o chamam de rio artificial ou tanque de peixes”, diz Lee In-keun, um sujeito magro e vigoroso, enquanto passeamos pelo trecho alto do Cheonggyecheon. As trilhas à beira dele fervilham de pessoas que contemplam a água e apontam fascinadas para as carpas preguiçosas nos trechos mais profundos. Pesquisas mostraram que o rio traz um efeito refrescante durante os escaldantes verões de Seul. Lee, que supervisionou o projeto de restauração, concorda que o Cheonggyecheon é artifical. Mas acha que essa distinção não tem importância, que a presença da natureza aqui é tão vital quanto em um ambiente sem intervenção humana. “Esta é uma joia da cidade. Dá para ouvir a água correr na área central de 10 milhões de pessoas. É inacreditável. Nós o fizemos assim de propósito.”
O Cheonggyecheon começa no distrito financeiro, em um desfiladeiro de prédios de escritório. Corre para o leste, suas margens se alargam, o concreto dá lugar a franjas de junco e clareiras de árvores. Passa por áreas comerciais elegantes, distritos atacadistas combalidos e gigantescos complexos de apartamentos. Em um ponto, dois pilares de concreto se espetam na água. São parte da velha estrada, lembretes do passado e da impermanência da nossa engenharia. Muitos em Seul têm dificuldade para lembrar o tempo em que o rio era coberto, quando garças delicadas não vadeavam o leito à procura de peixes, quando esse não era um lugar aprazível.
Estou quase no fim do Cheonggyecheon quando ouço a cantora. Sigo sua voz até um pequeno palco sob uma ponte, onde uma banda toca um “trot”, um estilo de música de ritmo dançante e uma letra que não sai da cabeça.
Quando larguei a mão da minha mãe e dei meia-volta,
Até a coruja chorou. Eu também.
Sento-me num banquinho ao lado de um grupo de aposentados e fico ouvindo. Então, uma mulher de sorriso meigo e insistência invencível me convida para dançar. De mãos dadas em nosso arrasta-pé, estamos juntos como a cidade e o parque ribeirinho que a percorre.
Área Nacional de Recreação Golden Gate
“ FOI AQUI QUE TUDO COMEÇOU”, conta Amy Meyer, quando chegamos à entrada de carros de Fort Miley, parte da Área Nacional de Recreação Golden Gate, na orla noroeste de San Francisco, na Califórnia. Um coiote parado no meio da rua fica nos encarando, pelo jeito sem pressa nenhuma de sair dali. Embora o Serviço Nacional de Parques venha marcando presença em cidades há anos (por exemplo, supervisiona o National Mall em Washington, DC), a criação de Golden Gate é considerada um divisor de águas no movimento dos parques urbanos.
Amy, de 82 anos, tem uma faceta afável e outra batalhadora. Em 1969, ela era mãe e dona de casa quando soube dos planos para construir uma central de arquivos em Fort Miley, uma área da defesa costeira quase deserta, a alguns quarteirões de onde ela morava. Começou a lutar para salvar aquele espaço e acabou juntando forças com ativistas do outro lado da Ponte Golden Gate, receosos de que o desordenado crescimento urbano pudesse destruir a austera beleza da Península Marin Headlands.
Golden Gate foi estabelecida em 1972 junto com a Área Nacional de Recreação Gateway em Nova York e Nova Jersey. Esses novos espaços indicaram que o Serviço de Parques já não se dedicava apenas aos grandes refúgios de vida selvagem mas se voltava também para áreas mais acessíveis, mais próximas das cidades americanas. Como explicou Walter Hickel, secretário do Interior e ex-governador do Alasca: “Temos de trazer a natureza novamente até as pessoas”.
Com 15 milhões de visitantes ao ano, a Área Golden Gate ocupa os dois lados da entrada da Baía San Francisco e tem quilômetros de litoral, penhascos vertiginosos, sequoias e remanescentes de antigas instalações militares. Sem falar na Ilha Alcatraz, onde 4 mil turistas por dia desembarcam de balsas para ver a velha prisão federal e refletir sobre a vida atrás das grades.
O parque é animado: moradores das imediações cruzam com turistas, há partidas de frisbee e piqueniques, cães andam livres ou na coleira por quase toda parte. Muitos dos visitantes não sabem que estão em uma reserva nacional. Isso é compreensível. Não há nenhuma grande entrada. Para aumentar a confusão, San Francisco tem seu próprio Parque Golden Gate, que faz fronteira com a área federal perto do mar.
A majestade da Baía San Francisco vista da Área Nacional de Recreação Golden Gate atrai visitantes como Ben Fernyhough, que viajou do Oregon para praticar skate - Foto: Simon Roberts
Tudo isso gera um eleitorado de formidável diversidade: praticantes de asa-delta, políticos e surfistas, entre outros. Batalhas sobre como administrar bem os recursos locais podem ser disputadas. “Estamos em uma democracia, e as democracias podem ser confusas”, diz a superintendente da Golden Gate, Chris Lehnertz. Por exemplo, há mais de 12 anos se cogita um plano para regulamentar a presença de cães na área.
Chris também está trabalhando com os governos locais em uma estratégia de assistência aos moradores de rua. “Vejo um sem-teto que passa a noite aqui como um visitante, tanto quanto alguém que traz o cachorro para passear numa trilha bem cuidada”, diz ela. Em uma manhã, dirijo por cerca de 8 quilômetros ao sul de San Francisco até a serra chamada Milagra Ridge, um minúsculo posto avançado do parque com belíssima vista do Oceano Pacífico. As fachadas de estuque dos condomínios residenciais nos subúrbios da cidade de Pacifica encostam-se na serra e em seu ondulado tapete de vegetação rasteira. No auge da Guerra Fria, esse lugar foi uma base de mísseis, mas a serra acabou sendo incorporada à Área Golden Gate. Espetada em meio a um mar de casas, tornou-se uma ilha, serena e desafiadora, um refúgio para espécies ameaçadas, como a rã Rana draytonii.
No ano passado, pouco antes de seu centenário, o Serviço Nacional de Parques publicou sua “Agenda Urbana”, que é uma continuação, embora mais urgente, de estímulos iniciados nos anos 1970. O relatório diz que, considerando a velocidade das mudanças demográficas nos Estados Unidos, é bom negócio e boa política aumentar a importância desse esforço em um país cada vez mais urbano e diversificado.
Os icônicos parques municipais de fronteiras certinhas não irão sumir. Eles são preciosos para as cidades do mundo todo. Mas o traçado organizado que eles requerem é mais difícil de encontrar em lugares já ocupados. Por isso, nossos novos parques urbanos, nos Estados Unidos e em outros países, refletem os desafios de adquirir e modificar um terreno. “O público agora critica mais. E os reguladores supervisionam mais”, conta Adrian Benepe, diretor de desenvolvimento de parques urbanos da ONG Trust for Public Land e ex-diretor de parques da cidade de Nova York. A caça de verbas para transformar os retalhos de paisagem pós-industrial em parques agrava o problema. “É uma luta, pois as cidades também têm de custear a saúde e a educação”, explica Benepe. “Os parques geralmente não são prioridade.” Ele conta que está surgindo um modelo mais dependente do trabalho em conjunto com o setor privado, tanto para construir como para operar as emergentes reservas urbanas. Em Tulsa, Oklahoma, por exemplo, uma fundação criada com a riqueza do petróleo e dos bancos doou 200 milhões de dólares para um parque de 350 milhões de dólares em uma área cercada de comunidades pobres do Rio Arkansas. Em Newark, Nova Jersey, o grupo de Benepe cooperou com o governo e com líderes empresariais na criação de um parque em um terreno antes contaminado à beira do Rio Passaic.
No mundo todo, talvez o mais ambicioso parque urbano administrado com essa mentalidade empreendedora seja o chamado Presidio, uma antiga base do Exército americano que pertence à Área Nacional de Recreação Golden Gate, mas funciona separadamente. Situado à entrada da Baía San Francisco, o Presidio pertenceu primeiro à Espanha, depois ao México e por fim, em 1846, passou ao domínio dos Estados Unidos. A paz fez o que as guerras não puderam fazer, e, em 1989, o Presidio foi considerado desnecessário à defesa nacional, sendo então fechada a base: 603 hectares de alojamentos militares, prédios, vales e vistas deslumbrantes.
 Presídio San Francisco - O pôr do sol e a maré baixa convidam para a caminhada em Marshall’s Beach. Na entrada da Baía San Francisco, o parque foi um posto avançado militar por 218 anos, usado primeiro pela Espanha, depois pelo México e pelos Estados Unidos. Em contraste com outros parques do sistema nacional, este não recebe verbas federais. A maioria de suas receitas provém da locação dos antigos prédios militares - Foto: Simon Roberts
Presídio San Francisco - O pôr do sol e a maré baixa convidam para a caminhada em Marshall’s Beach. Na entrada da Baía San Francisco, o parque foi um posto avançado militar por 218 anos, usado primeiro pela Espanha, depois pelo México e pelos Estados Unidos. Em contraste com outros parques do sistema nacional, este não recebe verbas federais. A maioria de suas receitas provém da locação dos antigos prédios militares - Foto: Simon Roberts
Em 1994, o Presidio foi transferido para o Serviço de Parques. Em contraste com outras reservas nacionais, essa tem seu próprio conselho diretor e gera sua própria receita, sobretudo alugando os antigos alojamentos militares e os prédios do hospital e da administração para locatários residenciais e comerciais. As empresas privadas empregam cerca de 4 mil pessoas, e mais de 3 500 vivem na base reformada. Uma casa em um dos bairros mais ricos, onde antes moravam os altos oficiais do Exército, gera um aluguel mensal de 12 000 dólares. As receitas são aplicadas em restauração, renovação e manutenção. Os ciprestes, plantados há mais de um século, estão morrendo e precisam ser substituídos. Para recriar um pântano, parte de um plano abrangente de restauração da biodiversidade, seria preciso demolir apartamentos menos históricos, porém mais baratos, e isso evidencia a necessidade de estar sempre analisando e reavaliando missões concorrentes.
“Aqui os valores e a terra estão enredados de um modo muito mais complexo que em qualquer outro lugar”, conta Michael Boland, uma das principais autoridades do Presidio. Os ativos do lugar, que no ano passado renderam 100 milhões de dólares, são bem atípicos, mas isso eclipsa o aspecto mais importante dos parques urbanos: a fluidez de suas fronteiras e os compromissos que eles acabam engendrando. “Acredito que o futuro tem muito mais a ver com isso que com as grandes áreas selvagens”, diz Boland.
Tempelhof
O TERMO “ÁREA SELVAGEM” pode funcionar tanto como uma descrição linear ou, cada vez mais, como uma classificação subjetiva para um ambiente que, na verdade, nada mais tem de suas feições originais. No caso dos parques urbanos, porém, o que se espera em geral é o deleite de estar ao ar livre. Lembro-me disso quando vou ao Tempelhof, um aeroporto transformado em parque no coração de Berlim. É dia de semana, e uma hora antes de o sol se pôr o parque começa a se inundar de gente. Ciclistas percorrem os 2 quilômetros de ciclovia, corredores treinam no gramado, garotos voam em skates de parasail e mães chutam bola com os filhos. E, sendo na Alemanha, o que não falta ali é cerveja.
O velho aeroporto Tempelhof fechou em 2008. Quando reabriu como parque, dois anos depois, não se tinha certeza de que os berlinenses o curtiriam. Na época, assim como agora, o lugar tinha poucas comodidades; era como se o aeroporto apenas estivesse fechado por um dia para repavimentação da pista. Mas sua autenticidade – o fato de ter sido bem pouco modificado – se revelou ser o seu atrativo. Os moradores da área gostaram do descampado, da vista quase desobstruída do pôr do sol. Adoraram entrar em um recinto outrora proibido. Acima de tudo, festejaram a sensação de liberdade encontrada nos 300 hectares do Tempelhof. Quando planejadores municipais divulgaram uma proposta para construir moradias e escritórios em um quinto do terreno, a reação levou a um plebiscito, em 2014, que barrou construções no local.
“A gente sente o céu. A gente respira”, diz Diego Cárdenas, um dos líderes do movimento do plebiscito, sentado ao meu lado no gramado. “Se começarem a construir no parque, como isso vai terminar?” O futuro do Tempelhof ainda envolve habitação, mas talvez não do modo como imaginava tanto um lado como o outro. Parte do prédio do terminal, com seu telhado arqueado de 1 200 metros de comprimento, está servindo de abrigo temporário aos milhares de refugiados que afluíram para a Alemanha.
As autoridades compreenderam que o plano de construir na área não foi bem explicado e assumem que não previram como as pessoas reagiriam depois de ter tido acesso ao parque. Os berlinenses, explicam, têm uma história de reivindicar o uso de terrenos desocupados. E no Tempelhof isso aconteceu numa escala colossal. “Eles quiseram se apossar do lugar”, diz Ursula Renker, planejadora do governo municipal de Berlim. “Para a maioria das pessoas, o aeroporto era parte de sua história. Havia um fascinação especial porque ele tinha sido um local cercado. Para entrar, era preciso passar por um portão.”
OS PORTÕES CONTINUAM LÁ, e dá para ver o sorriso brotando em quem os transpõe. É a antecipação de um prazer que vem da familiaridade. Os parques urbanos talvez não estejam no topo da nossa lista de lugares imperdíveis a visitar, mas sem dúvida merecem um lugarzinho nela.
É assim com meu parque urbano favorito, uma área pantanosa perto da minha casa. O lugar não tem nada de mais – é apenas cerca de 1 hectare de terreno baixo que foi poupado de construções. Vou lá com frequência. Gosto de chegar de manhã bem cedo, andar no meio das tábuas e ver os dois mundos, o das calçadas e o do pântano, ganharem vida. O sol nasce, bate na copa das árvores, o tráfego engrossa nas avenidas de quatro pistas que ladeiam o parque. Por fim, o barulho se torna tão constante que passa despercebido ao fundo. Aí, se eu prestar bastante atenção, posso ouvir o canto dos pássaros.
Disponível em: http://viajeaqui.abril.com.br/materias/parques-urbanos-areas-verdes-cidades?utm_source=redesabril_viagem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_ngbrasil#5